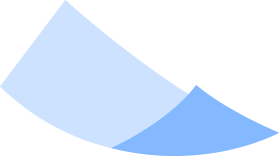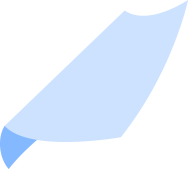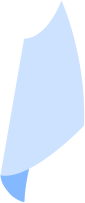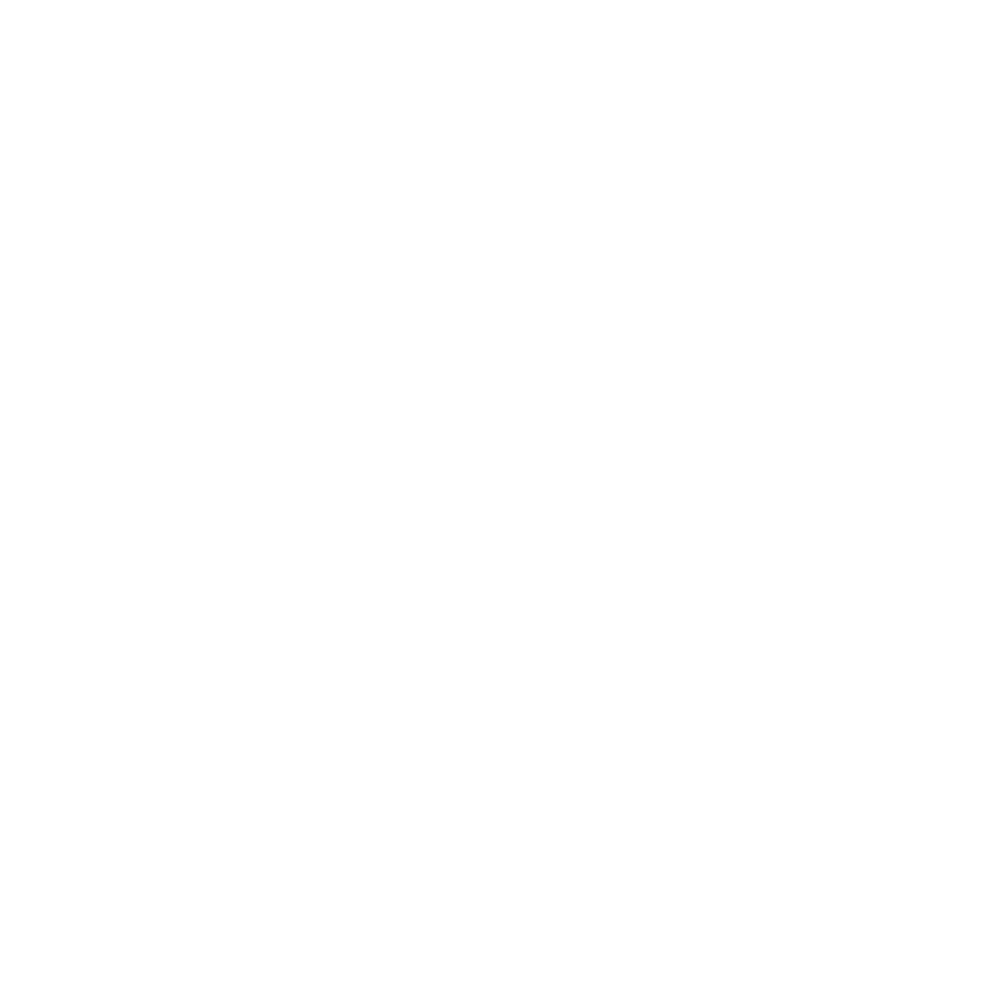Senhor Norma Culta
Evanildo Bechara defende que o aluno deva ser poliglota em sua própria língua. “Ningué
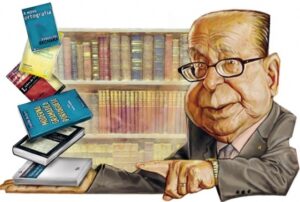
m vai à praia de fraque ou de chinelo ao Municipal”, diz.
Há coisas nas quais é difícil ser original: a primeira palavra que Evanildo Bechara falou foi mãe.“O registro mais antigo do vocábulo está no indo-europeu, antes disso não temos conhecimento”, ele explicou, dur
Quando fala sobre a vírgula facultativa – aquela que não é exigida pela gramática, obedecendo apenas à entoação da frase –, faz um parêntese para citar um estudo de estilística mostrando que autores míopes pontuam mais. “Isto ocorre porque eles leem mais pausadamente”, explicou. “Nosso Machado e nosso Rui Barbosa eram míopes que pontuavam muito.”ante um almoço na Academia Brasileira de Letras. “A palavra veio do latim matrem.
No francês temos mère; mother, no inglês; mutter, no alemão. Em quase todas as línguas, a palavra começa com a bilabial m, que nos obriga a juntar e abrir os lábios para pronunciá-la. Quando os bebês falam mamãe, talvez o que queiram mesmo é mamar.”
(Clique em Leia Mais para continuar a leitura)
Com 65 anos de magistério, o professor Evanildo Bechara ainda dá aulas, de análise sintática, na especialização em língua portuguesa do Liceu Literário Português, no Rio. Seu curso, carro-chefe da casa, é disputadíssimo por pós-graduandos no vernáculo – querem estar perto daquele que é tido pelos pares como um dos grandes filólogos, linguistas e gramáticos do idioma em que Camões chorou no exílio amargo.
“Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a coser”, declamou Bechara de cor, numa aula recente. A frase, tirada do conto “Um apólogo (A agulha e a linha)”, de Machado de Assis, servia para ilustrar o posvérbio – a preposição que, posposta a um verbo, altera o seu sentido. A função não é sintática, mas semântica. Pegar uma linha indicaria nada mais do que segurá-la. Mas pegar da linha implica que ela será utilizada. “É impressionante como os bons autores aproveitam todas as faculdades da língua”, comentou.
No inglês, o fenômeno, conhecido como two-word verbs, é largamente utilizado. Look é “olhar”. Acrescido da preposição for, quer dizer “procurar”, look for. Bechara explicou então que “cumprir o dever” é diferente de “cumprir com o dever”, que exige sacrifício.
Todos os anos, ele recebe dezenas de convites para ser paraninfo Brasil afora e periferia adentro. Para surpresa de quem o convida, espanto dos colegas e às vezes contragosto da família, ele costuma aceitá-los. Já foi ao Acre e a São Gonçalo, Mato Grosso e Nova Iguaçu, cumprir com o dever de prestigiar os jovens que militarão no magistério da última flor do Lácio. Constantemente, começa os discursos com a frase: “Bem-vindos à nau dos insensatos: só louco para ser professor de português no Brasil hoje.”
Evanildo Cavalcante Bechara nasceu no Recife, a 26 de fevereiro de 1928. Filho primogênito do comerciante libanês João Bechara e da dona de casa maranhense Maria Izabel Cavalcante, foi criado para seguir a profissão do pai. Os estudos não eram valorizados em casa: a nota que desse para passar de ano bastava. Pequeno, acompanhava o pai em viagens para comprar tecidos, roupas femininas, brinquedos e outras mercadorias. Nessas expedições, usavam uma língua própria: “bom”, “barato”, “caro” e “não presta” eram falados em árabe para não ofender os interlocutores.
Evanildo tinha 11 anos, andava de bicicleta com seu irmão Everaldo, quando Tatá, a empregada da casa, os chamou e avisou que o pai deles havia falecido. Maria Izabel, viúva aos 25 anos, não teve condições de ficar com todos os cinco filhos, e distribuiu os dois mais velhos. Numa manhã de abril de 1940, Bechara subiu a bordo do Itaité, rumo ao Rio. Seguia para a casa do tio-avô, Benedito Cavalcante, um capitão do Exército.
O capitão Benedito recebera um telegrama de Maria Izabel pedindo que tutelasse o menino até completar os estudos. O tio-avô, que havia perdido o filho para a febre espanhola, atendeu ao pedido. Sua casa ficava no Méier, na Zona Norte. Poucas horas depois de ter desembarcado e pousado a matalotagem, a campainha tocou. O menino atendeu à porta e quem tocava lhe disse que era o tintureiro. Bechara avisou ao tio: “É o homem do carro de presos.”
No Recife, tintureiro queria dizer isso mesmo: carro que conduz presos. Era a segunda variação regional que aprendia emmenos de uma semana. Na escala em Salvador, Bechara optara por um vatapá “bem quentinho”, achando que o garçom se referia à temperatura do quitute. Aprendeu, no paladar, que quente era sinônimo de apimentado na Bahia.
Nos anos que se seguiram, o menino passou por outras tantas desavenças lexicais. Na escola, seu sotaque nordestino era motivo de chacota. “No Rio, o chiamento da pronúncia vem da influência dos portugueses quando a cidade era capital”, disse. “Como em Pernambuco nós não chiamos, eu era o diferente da turma.”
Bechara não disse, contudo, que sofreu bullying. Por quê? Para o lexicógrafo, à diferença de “mangar”, “caçoar”, “zoar” e “bulir”, o traço distintivo de bullying – nuance que não permite que uma palavra seja sinônimo de outras do mesmo campo semântico – está no teor mais agressivo que o termo em inglês implica. “A palavra entrou na moda porque é nova, a sociedade é novidadeira, e a novidade faz parecer que o sentido da palavra é mais forte, fica mais apelativa”, explicou o gramático entre uma garfada e outra de picadinho com ovo e farofa, no restaurante da Academia Brasileira de Letras. Pediu feijão, mas não havia.
Aos 83 anos, Bechara tem excelentes apetite e memória. Decora até os nomes dos filhos das garçonetes dos restaurantes dos quais é freguês, e é sempre recebido com beijinhos e abraços. Não vi ninguém que o cumprimentasse sem lhe tocar o ombro ou passar as mãos em volta da cintura. Bechara mantém os ombros largos e o peito aberto da sua infância de nadador, quando foi campeão de natação pelo Náutico, no Recife. A idade e a vaidade só se notam nos ralos cabelos que lhe restam, devidamente tingidos. Sua fala eloquente, sempre acompanhada de gestos com as mãos, ainda guarda um sotaque quase imperceptível, desbastado da exuberância regional.
Ele integra a Comissão de Lexicologia e Lexicografia da ABL, que, entre outras missões, faz um dicionário ortoépico. Bechara explicou: “A ortoépia ensina a articular bem os fonemas – sese fala obéso ou obêso. Toda língua tem variações, em primeiro lugar no tempo e depois diferenças regionais, sociais e de estilo, conforme o uso mais ou menos culto. Quando fazemos um trabalho normativo desse tipo, levantamos os fatos da língua exemplar. Não é correção.”
Bechara senta-se na sala da Comissão com outros seis lexicógrafos sem nenhuma distinção hierárquica. Sua mesa só se destaca por ser a única em que não há um computador. Seus trabalhos são todos manuscritos, e posteriormente digitados. A sala é decorada com fotos de Aurélio Buarque de Holanda, Antônio Houaiss e Afrânio Coutinho, as estantes são abarrotadas de dicionários e enciclopédias em diversas línguas. Naquela tarde, estavam todos aliviados: finalmente poderiam dicionarizar a palavra “azul-barateia”, tom de cor usado nos uniformes da Aeronáutica.
Para descobrir qual matiz de azul traduziria o termo “barateia”, tiveram que pesquisar junto a oficiais da Aeronáutica. Foi difícil encontrar alguém na FAB que soubesse explicar a origem do termo – a maioria adiantava apenas que era a mesma nuança do “azul-marinho”. Mas um oficial aviador formado em letras explicou que o termo “marinho” alude ao mar, e, portanto, sugeriria o azul da farda usada pela Força Naval. A Força Aérea precisava de nome à altura de seus pundonores e melindres.
Depois de semanas às voltas com o vocábulo, Débora Garcia Restom, uma das lexicógrafas, encontrou a palavra barathea em um dicionário de inglês. Oprimeiro registro que se tem da palavra é de 1812, indicando um tecido. A origem é desconhecida, mas é provável que venha do sânscrito, pois a Inglaterra importava tecidos da Índia. “O léxico é a janela da língua que se abre para o mundo”, disse-me Bechara. “Enquanto a gramática é você consigo, o vocábulo é você com o externo.”
Lexicógrafos são capazes de passar um dia inteiro discutindo as acepções da palavra “charada”, que pode significar tanto a motivação quanto a solução. Ou se a palavra panturrilha, que vem do espanhol pantorrilla, não deveria também ser escrita com o, pois a fonética e a etimologia são os dois critérios utilizados na ortografia.
“Antigamente, colocavam-se vários dicionários na mesa e as pessoas copiavam como se lhes conviesse, mas hoje fazemos um levantamento de milhões de ocorrências e vemos as variações semânticas dentro do contexto de uso”, explicou. “No Brasil, ainda engatinhamos na lexicografia. O dicionário Houaiss conta com 250 mil vocábulos. Já o Oxford, com 600 mil palavras, é excelente: só para a letra chá um volume inteiro. A letra c, na maioria das línguas, é a que tem o maior número de palavras.”
Bechara ficou felicíssimo com a recente conclusão do levantamento do léxico de Machado de Assis. “Os Lusíadas foram escritos com 5 mil palavras, a Bíblia com 7 mil”, disse. “Nós imaginávamos que iríamos encontrar não mais de 4 mil palavras nas obras completas de Machado. Quando você o lê, dificilmente tem que abrir o dicionário, ele usa um vocabulário comum. É diferente de um Euclides da Cunha, um Coelho Neto ou de um Rui Barbosa, que escreveram em um momento da estilística nacional em que se expressar bem era usar palavras difíceis”, contou. O resultado do levantamento mostrou, no entanto, que Machado utilizou 16 mil palavras diferentes. “Que surpresa boa, menina”, disse, orgulhoso da riqueza do seu escritor dileto.
Bechara aprendeu português no Colégio Leverger, instituto educacional modesto no Méier, cujo dono era um coronel amigo do tio-avô capitão. Teve como ferramenta de aprendizado a gramática de Eduardo Carlos Pereira, que, vinte anos mais tarde, seria convidado a atualizar. “Trabalhávamos a gramática de Pereira de cabo a rabo, sabíamos passagens de cabeça”, contou. Mas a disciplina que mais gostava era a matemática, pois queria seguir carreira militar como engenheiro aeronáutico. Um de seus programas prediletos era visitar o aeroclube do Campo dos Afonsos. Não foram penas perdidas. “Estudando matemática disciplinei meu pensamento”, avaliou.
Como precisava mandar dinheiro para a mãe e os irmãos que ficaram no Recife, passou a dar aulas particulares. Oferecia lições de matemática, mas só lhe apareciam alunos de português e latim, as disciplinas que mais reprovavam. Não podia se dar ao luxo de recusá-los, e então se dedicou aos estudos daquela que é esplendor e sepultura.
Certo dia, ao ajudar o tio-avô na faxina da garagem topou com Lexicologia do Português Histórico, de Manuel Said Ali, um dos maiores sintaxistas da língua portuguesa. Terminada a limpeza, o menino correu para o quarto e começou a leitura. “Quando li a primeira frase do prefácio, soube que, como dizia Dante, Said seria Il mio autore”, contou Bechara. O prefácio começava com: “Não estudo a língua separada do homem que a fala.”
Bechara recita o adágio com o arrebatamento de um adolescente a quem um mundo rútilo se descortina. O novel erudito já pressentia que não se devia decompor a língua como um legista faz com um cadáver. Mas era essa a atitude dominante. “A língua era estudada como produto natural”, lembrou. “Nascia, crescia e vivia independentemente do social. Se você plantar semente de laranja, nascerá uma laranjeira. Acontece que a língua depende do uso, e é perfeitamente possível plantar uma laranjeira e nascer uma macieira. Essa era a novidade de Said Ali.”
Como decorrência da afirmação de Said Ali, Bechara tem um axioma que sempre repete: a língua é produto de tradições, e não da lógica. “Se a língua fosse lógica, não poderíamos dizer ‘mais de um saiu’, teríamos que dizer ‘mais de um saíram’, porque mais de um tem de ser no mínimo dois; e dois leva o verbo ao plural”, explicou. “Os gramáticos não procuram a lógica da língua, apenas sistematizam os fatos produzidos pelos usuários. Quem quiser mostrar como a língua deve ser usada tem de conhecê-la, ler tudo o que cair debaixo dos olhos, do século XVI aos nossos dias.”
Bechara mantém sempre o mesmo padrão uniforme elocucional, não há flutuação tonal em sua voz. Seus amigos nunca o viram perder a paciência, nem mesmo quando teria razões para tanto. Em 1999, quando o deputado federal Aldo Rebelo quis restringir os estrangeirismos, para proteger a língua portuguesa, Bechara julgou o projeto absurdo.
“Essa ideia só pode ter vindo de alguém que não sabe o que é e como funciona uma língua”, constatou. “Por exemplo, os romanos eram muito pobres em cores. Posteriormente, os franceses e ingleses desenvolveram mais nomes para designá-las em decorrência da expansão do comércio e do aprimoramento da manufatura. Hoje, as palavras mais ligadas à tecnologia vêm do inglês, língua do país que a divulga. Os estrangeirismos são registros linguísticos do contato entre povos. Era o que Said Ali dizia no início do século passado: a língua é um produto social.”
No dia seguinte à leitura do Lexicologia do Português Histórico, Bechara foi à Livraria Central e comprou outras obras do autor: Dificuldades da Língua Portuguesa, Meios de Expressão e Alterações Semânticas e a Gramática Histórica da Língua Portuguesa.
Leu-as todas. Mas “um belo dia eu tive dificuldade no entendimento de um texto e precisei falar com o autor”. No viço da mocidade, e cheio de iniciativa, procurou Said Ali no catálogo de telefones. Ligou, apresentou-se como admirador de seus livros e pediu um encontro para sanar dúvidas.
No dia combinado, pôs a melhor farda colegial, pegou um trem do Méier até a Central do Brasil e de lá seguiu a pé até a rua da Glória. “Apareceu um homem que parecia um sultão com barbas longas, tendo ao lado uma cachorrinha preta com quem só falava em alemão”, lembrou-se. Bechara e Said Ali conversaram longamente, tarde adentro. O menino contou que desejava ser professor de português. O mestre lhe indagou se tinha alguma coisa escrita. Bechara contou que escrevia um trabalhinho, em rascunho, inspirado na leitura do próprio Said Ali.
O trabalho era sobre entonação, sobre significados na língua que são expressos por meio da modulação do falante. Fazia um levantamento do fenômeno em várias línguas. Em árabe, disse, xabat quer dizer bater, mas se pronunciado xaaaaabat, com gradação intensiva, significa bater fortemente.
A musa que cativou o jovem e continua a enfeitiçar Bechara é a sintaxe. “Você não fala com palavras isoladas ou com fonemas”, defendeu. “Você fala com a frase. O estudo da frase é a sintaxe. Sintaxe quer dizer ‘combinação’. Os gregos foram buscar a palavra na nomenclatura militar: sintaxe era a arrumação dos soldados na tropa, e a reunião da tropa no exército. Na língua, o processo é o mesmo: a análise sintática mostra as relações de dependência e independência que as palavras, expressões e orações mantêm entre si.”
Passado algum tempo, numa sexta-feira, dia de encerar a casa, Bechara estava com a enceradeira para lá e para cá, quando o telefone tocou. Era da casa de Said Ali, pedindo que ele fosse lá, no dia seguinte. No sábado, o pupilo recebeu um elogio austero: “Para sua idade, achei bom o trabalho que o senhor fez.” Veio então o presente: “Está vendo aquela pilha de livros ali? São seus. À medida que o senhor for lendo, vá levando-os.” A pilha media mais de 1 metro e incluía Diogo do Couto, João de Barros, Fernão Lopes de Castanheda e outros de jaez excelso. Eça e Machado eram o que a torre tinha de mais recente.
Durante doze anos, até a morte de Said Ali, aos 91, Bechara frequentou a casa do professor. Trabalhavam em traduções do alemão, ou estudavam os antigos. Said Ali lia em voz alta, e frequentemente se interrompia para fazer comentários filológicos do texto, elucidando a história de palavras. Foi apenas depois de dar uma sólida base literária ao aprendiz que Said Ali o apresentou aos textos teóricos. O primeiro deles, escolhido a dedo, foi o Cours de Linguistique Générale, de Ferdinand de Saussure. Ao lembrar-se de sua formação, em homenagem ao grande mestre, Bechara pediu de sobremesa uma torta alemã.
Concluído o ginásio, começou o curso clássico no Instituto La-Fayette, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro. “Fiquei sabendo através de um amigo que eu poderia apresentar um trabalho em vez de cursar os dois anos de clássico que faltavam”, contou. “Se o trabalho fosse julgado de valor, notório saber, não precisaria concluir o curso para me candidatar ao vestibular. Eu tinha o trabalho dos fenômenos de entonação, elogiado por Said Ali. Apresentei e passei.” Entrou para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto La-Fayette. No curso de neolatinas, o colega de turma mais novo depois de Bechara tinha 28 anos, dez a mais que ele.
Horácio Rolim de Freitas é um filólogo de 79 anos, amigo de Bechara há cinquenta. Apesar de mais jovem, não se vexa em dizer que inveja a memória do amigo: “É de admirar! Bechara sabe o aniversário de todos os filólogos de cor, lembra-se de livros que leu há cinquenta anos.”
Perguntado sobre quantas línguas fala, Bechara respondeu: “Só português, mal e parcamente.” Modéstia à parte, disse que para uso pessoal tem o português, o inglês, o francês e o alemão. Consegue ler em todas as línguas românicas, que são dez. “Do ocidente para o oriente, excluindo os dialetos, temos o português, o galego, o espanhol, o catalão, o francês, o provençal, o italiano, o dalmático, o reto-românico e o romeno”, explicou, apontando no ar, como se estivesse mostrando as regiões em um mapa. O bom conhecimento de grego e latim, disse, facilitou o aprendizado. “Em árabe, não leio, mas sei xingar muito porque era o que as avós mais faziam”, brincou.
Em 1946, quando começou a dar aulas, não havia concurso público para escolas, os cargos eram todos preenchidos por indicação. “Como não tinha ninguém que me indicasse, sabia que teria de estudar o dobro”, contou. Chegou a dar treze aulas por dia, quatro de manhã, quatro à tarde e cinco à noite. Chegava em casa, jantava, tomava banho e estudava até as três da madrugada: “O professor nada mais é do que um estudante mais velho”, disse o gramático, que ainda hoje não dorme antes da uma da manhã. “A consciência permanente da responsabilidade que colegas competentes e alunos me atribuem não me deixa parar de estudar.”
Quando vieram os concursos públicos, entrou de cabeça: participou de dez deles. Aproveitava posições, cátedras e titularidades que se lhe iam apresentando. A carreira poderia ter sido catapultada se tivesse aceitado o convite, recebido ainda no 3º ano de faculdade, para tornar-se catedrático de latim. “Eu declinei o convite em homenagem ao professor Said Ali”, contou. “Aos meus 16 anos ele se debruçara sobre mim, e me orientara para ser professor de língua portuguesa.”
Para o primeiro concurso que prestou – para a cátedra de língua portuguesa no Colégio Pedro II, em 1954 –, escreveu a tese “Evolução do pensamento concessivo no português”.Boatos se espalharam que Bechara teria plagiado um trabalho de Said Ali. Os vinte e poucos anos do rapaz não condiziam com a bibliografia fora de órbita que apresentara. Quando veio o exame escrito, tirou dez com todos os arguidores. O boato então mudou: o espírito de Said Ali havia feito a prova.
A única preocupação de Bechara foi com a palavra boato. O termo, indicando notícia que anda publicamente, sem procedência, não é herança romana. Ao contrário, seu aparecimento é recente no português. Não encontrou a palavra em Barros, Couto e Camões. Nos Sermões de Vieira colheu um exemplo em que significava som forte. “Os escritores do passado recorriam às palavras fama ou rumor quando pretendiam expressar o boato de nossos dias”, esclareceu.
Na defesa da tese de livre-docência, “O futuro românico: considerações em torno de sua origem”, Bechara emocionou-se com o comentário da banca: “Não podemos dar menos de dez em títulos para o autor da Moderna Gramática Portuguesa.” A gramática de Bechara é seu principal motivo de notoriedade. Além de ser usada em escolas, universidades, e bibliografia obrigatória em concursos públicos, é uma das obras mais citadas em teses e dissertações sobre língua portuguesa.
Em 1961, a Companhia Editora Nacional propôs a Bechara que escrevesse um capítulo para atualizar a Gramática Expositiva de Eduardo Carlos Pereira, publicada em 1910. As ideias estruturalistas chegavam ao Brasil, abalando a linguística, e era necessário ajustar o texto de Pereira. “Quando eu apresentei o capítulo, que também incluía os estudos americanos adiantados sobre fonêmica e fonologia, viram que eu tinha feito um novo livro, já não era mais o Pereira”, contou. “Pediram então que eu escrevesse a minha própria gramática.”
Para escrevê-la, releu todos os grandes autores e começou a anotar os fatos da língua. Na bibliografia, mais de 150 obras são citadas. Bechara também faz frasespara a esposa, Marlit, três filhos, sete netos, dois bisnetos, colegas e o barbeiro. A frase “Eu dancei com Marlit” serve para exemplificar o sentido de companhia da preposição “com”.
A Moderna Gramática, dedicada a Said Ali, está na 37ª edição. Só a edição de 1999 teve mais de vinte reimpressões. Na década de 80, o editor da Nacional disse a Bechara que a gramática já havia vendido mais de 2 milhões de exemplares. “Só sei que eu não fiquei rico”, brincou o autor.
Evanildo Bechara relutou em se candidatar a uma vaga de imortal. “A Academia sempre foi madrasta dos filólogos”, justificou. “Como todos os fundadores eram literatos, direta ou indiretamente, o amor à língua era cultivado, mas não o estudo dela. Basta dizer que Antônio de Moraes Silva, autor do primeiro dicionário monolíngue em língua portuguesa – até então todos os dicionários eram de português-latim –, não foi escolhido como um dos patronos. A Academia também foi muito injusta com o velho Antenor Nascentes, que lhe escreveu um dicionário em quatro volumes e foi rejeitado.”
Amigos, contudo, o persuadiram a se candidatar. Mas alertou que concorreria uma única vez. Em 2000, foi eleito para a cadeira 33. Brincou: “Virei imortal, mas não imorrível.”
Bechara lembrou-se então da polêmica levantada quando o ex-ministro Antônio Rogério Magri, do governo de Fernando Collor, declarou que era “imexível” no cargo. “Fizeram o maior alarde porque não encontraram a palavra no dicionário”, recordou. “Esqueceram a potencialidade da língua, que nada mais é do que um reflexo sociocultural das comunidades. Se pegarmos a morfologia de impagável, imutável, o ‘imexível’ do Magri foi e sempre será perfeitamente possível.” E citou a definição de Fernão de Oliveira, que em 1536 escreveu a primeira gramática de português: “A língua é o que os falantes fazem dela.”
A única competência legal da Academia Brasileira de Letras é publicar o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que os imortais chamam de Volp. Em 2008, a quarta edição do Vocabulário estava esgotada e acadêmicos trabalhavam na quinta edição, quando foram surpreendidos pelo novo acordo ortográfico, que desde 1990 estava no limbo. Esqueceram-se do projeto desde o falecimento de Antônio Houaiss, o mentor da reforma que unificaria a ortografia dos oito países de língua portuguesa. Em setembro de 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto, fazendo valer as novas regras de escrita, que entrariam em vigor a partir de janeiro de 2009.
Os seis lexicógrafos que integram a comissão do Vocabulário resolveram aplicar as novas regras nas 350 mil palavras do vocabulário da nova edição. Naquele ano, ninguém tirou férias. “Mergulhamos no texto do acordo e muitas vezes demos com a cabeça na pedra”, contou Bechara. “O textoé muito lacunoso e, o que não sabíamos, interpretamos, imbuídos do espírito do acordo.” Ele estava preparado para a catadupa de críticas que viriam. “Primeiro as palmas, depois as palmadas”, brincou.
O acordo desagradou boa parte dos linguistas, abrindo uma série de discussões na imprensa. Houve desde manifestações românticas, do tipo “o voo da gaivota perdeu a poesia sem o circunflexo”, até a lástima narcísica dos que sabiam explicar a diferença entre à-toa e à toa. Agora, ambos não têm hífen.
Mário Perini, linguista da Universidade Federal de Minas Gerais, é um forte opositor do novo acordo ortográfico. Segundo ele, o cunho da reforma é político e comercial. Acredita que a Guiné-Bissau deve ter necessidades maiores do que destinar seus poucos recursos a reimprimir livros escolares para remover tremas e acentos. E acrescenta que se fosse para de fato simplificar a língua, a reforma teria de ter maior alcance, permitindo que se escreva “xuva”, “jente”, “sidade” e “caza”. Perini não vê nada de simples em escrever “ideia” igual a “feia”, quando a pronúncia é diferente. Disse ainda que a reforma só contribui para o complexo de inferioridade do brasileiro, que acha que não sabe a própria língua.
“Se essa parede não tem infiltração, por que vou quebrá-la?”, perguntou Claudio Cezar Henriques, professor de língua portuguesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, apontando para a parede da sala de seu apartamento na Tijuca. O professor explicou que não existe ortografia ideal simplesmente porque ela nunca poderá ser um espelho da fonética. É por isso que certas partes do acordo são incoerentes. O único acento diferencial mantido foi em “pôr”, explicou, para diferenciar o verbo da preposição por. Entretanto, o acento de “pára”, que também tem preposição e verbo homônimos, caiu. “O jornais nunca mais poderão dar a manchete ‘Justiça para o Brasil’, pois a frase fica ambígua”, constatou.
Segundo o acordo, o prefixo “co” diante de uma palavra iniciada com h tem hífen. Acontece que o Volp grafou “coerdeiro” sem hífen e sem h. Isto porque há outra regra que diz: “O h inicial suprime-se quando, ‘por via de composição, passa a interior e o elemento em que figura se aglutina ao precedente’, como em desarmonia, biebdomadário e lobisomem.”
A lista de incoerências encontradas por Henriques é longa: água-de-colônia tem hífen, mas água de cheiro não. O acordo diz que algumas palavras, consagradas pela tradição, mantêm o hífen. “Mas eles não estão justamente mudando a tradição? E quem decide quais usos são consagrados e quais não são?”, indagou o professor. Ele mesmo respondeu: “Seguimos o que está no Vocabulário Ortográfico, ele tem força de lei. Pela legislação é lá que se encontra a ortografia correta.”
Quer tirar um professor de português do sério? Peça que lhe explique o uso do hífen. Bechara reconhece que o hífen ainda está “capenga”. Explicou a origem da confusão. Antigamente, quase não havia hifens, mas no século XIX a nomenclatura técnica criou muitos compostos na física, na química, na botânica, na economia e na filosofia. Esses compostos começaram a atrair o hífen. Os espanhóis adotaram uma solução mais econômica para o seu emprego, e os aboliram em grande parte. Já os franceses, que exerciam uma influência na Europa, se excederam no acento. Portugal, em vez de adotar o sistema espanhol, seguiu as pegadas da França.
Cada notação ortográfica só tem uma função: o acento agudo mostra uma vogal aberta; o circunflexo, uma vogal fechada em sílaba tônica. Já o hífen tem cinco funções: fonética, morfológica, sintática, semântica e estilística. Daí a dificuldade em estabelecer regras que atendam e harmonizem todos os critérios. Dia-a-dia, quando significava cotidiano, era uma locução substantiva, então se usava hífen, como na frase: “O meu dia-a-dia é muito agradável.” Mas dia a dia também pode ser uma locução adverbial. Não havia hífen em “A criança cresce dia a dia”.
Até o século XIX, as gramáticas eram mais normativas do que descritivas. No século seguinte, com Ferdinand de Saussure, a linguística adquiriu proeminência, e a ênfase foi para o estudo interno e a descrição das línguas, feitas com base na oposição de diferenças e semelhanças, de sintagmas e paradigmas, de significados e significantes – foi o primado do método estrutural.
A língua falada, supostamente espontânea e livre, passou cada vez mais a ser objeto de estudo científico, enquanto a gramática era tida como dogmática e conservadora. Baseada num corpus literário de escolha subjetiva – o cânone dos grandes autores, sem fundamento científico –, dizia-se que a gramática impunha uma língua artificial e elitista, fora do uso comum.
Consolidaram-se, assim, estereótipos. Enquanto o linguista era vinculado à ideia de liberdade, o gramático simbolizava a opressão. Todo o falar seria legítimo, não existiria certo ou errado, desde que o falante se faça entender. A correção seria uma violência a jeitos diferentes de falar do aluno.
Esses estereótipos voltaram à tona no mês passado, numa polêmica em que o governo federal foi acusado pelas classes conservadoras de querer abolir a norma culta. O pretexto foi um livro recomendado pelo Ministério da Educação que, justamente, discutia os estereótipos.
A posição de Bechara é a de que os grandes escritores depuram e aperfeiçoama língua, não aceitam qualquer influência popular ou aderem a modas. Eles desbastam os excessos e os caprichos, e é neles que se encontra o “deve ser” da língua.
Ele defende que o aluno deva ser poliglota em sua própria língua. “Ninguém vai à praia de fraque ou de chinelo ao Municipal”, disse. “As pessoas têm de saber adequar o registro linguístico à situação, de modo que aprender a norma culta seria somar e não substituir uma variedade da língua.” Para não haver confusão, no entanto, acha que nas escolas se deva ensinar tão somente a norma culta, sem relativismos que venham a deixar crianças e adolescentes em dúvida.
Numa tarde quente, em seu apartamento no Flamengo, o professor Ricardo Cavaliere disse ser um discípulo de Bechara. Os dois se conheceram na Universidade Federal Fluminense, em 1992, onde dividiam a sala 452. Cavaliere organizou Entrelaço entre Textos: Miscelânea em Homenagem a Evanildo Bechara, publicado em deferência aos 80 anos do professor.
Ao fazer o levantamento bibliográfico dos mais de 25 livros, 26 capítulos de livros, cinco teses, centenas de artigos, resenhas e prefácios, introduções e apresentações, além de verbetes e traduções, Cavaliere se perguntou: tendo lido tanto, como Bechara teve tempo para escrever? E tendo escrito tanto, como teve tempo para ler?
“A biblioteca do Bechara é de causar inveja”, disse Cavaliere. “Ele deveria publicar um guia internacional de sebos. Conhece todas as livrarias e sebos da Rússia a Portugal. Tem um faro invejável para encontrar livros raros.”
Dona Marlit, casada com Bechara há trinta anos, contou que a busca de livros é uma obsessão do marido. “Uma vez, estávamos em Copenhague e o livreiro o levou para um porão onde havia obras raras”, contou. “Passou mais de uma hora e ele não voltava. Fiquei preocupada. Quando desci ao porão, lá estava ele muito interessado na leitura, sentado num banquinho com livros a sua volta.”
O gramático lembrou quando foi trancado numa livraria, em Estocolmo. Ele lia quietinho em um canto e fecharam a loja com ele dentro. “A sorte foi que consegui abrir uma janela e pedir ajuda a uma senhora que passava”, disse. A sua biblioteca tem mais de 35 mil volumes. Está espalhada por uma casa, no Méier, e dois apartamentos, em Botafogo, onde mora num terceiro.
Evanildo Chauvet Bechara, o seu filho mais velho, foi um dos idealizadores da coletânea organizada por Cavaliere. Mas não chegou a ver sua ideia concretizada: morreu de infarto fulminante, em 2007, num quarto de um hotel em Manaus. “No dia seguinte ao velório, o professor Bechara tinha uma viagem marcada para representar a Academia em Brasília”, contou o professor Domício Proença Filho, também acadêmico. “E me prontifiquei a substituí-lo, mas ele foi mesmo assim. Me comoveu a sua aceitação dos desígnios divinos.”
O latinista Rosalvo do Valle, de 84 anos, conhece Bechara há 65. Ele me contou que um neto de Bechara, um menino de 12 anos, teve um acidente de skate e morreu alguns meses depois que o gramático perdera o filho. “Pensei: agora o Bechara desmonta”, disse Do Valle. “Fui à missa de sétimo dia, encontrei-o caído, mas seguro. Na semana seguinte, já tinha voltado a dar aulas.”
Como conseguiu lidar com perdas difíceis? Bechara respondeu: “É como acontece na gramática, um verbo que só pedia objeto direto agora pede objeto indireto. Era transitivo, passou a intransitivo. É você saber receber a vida como ela é e não arquitetar uma vida diferente da realidade. Isso sim causa sofrimento. A morte é uma coisa natural na vida.”
Ele aproveitou e disse que não está errada a expressão “correr risco de vida”, como se acredita hoje, argumentando-se que o perigo que se corre é de morte. A expressão tem respaldo na tradição, explicou. O próprio Machado escreveu, em Quincas Borba: “Salvar uma criança com o risco da própria vida.”
………………..
Esta reportagem foi publicada na Revista Piauí (link aqui), número 57, em junho de 2011.